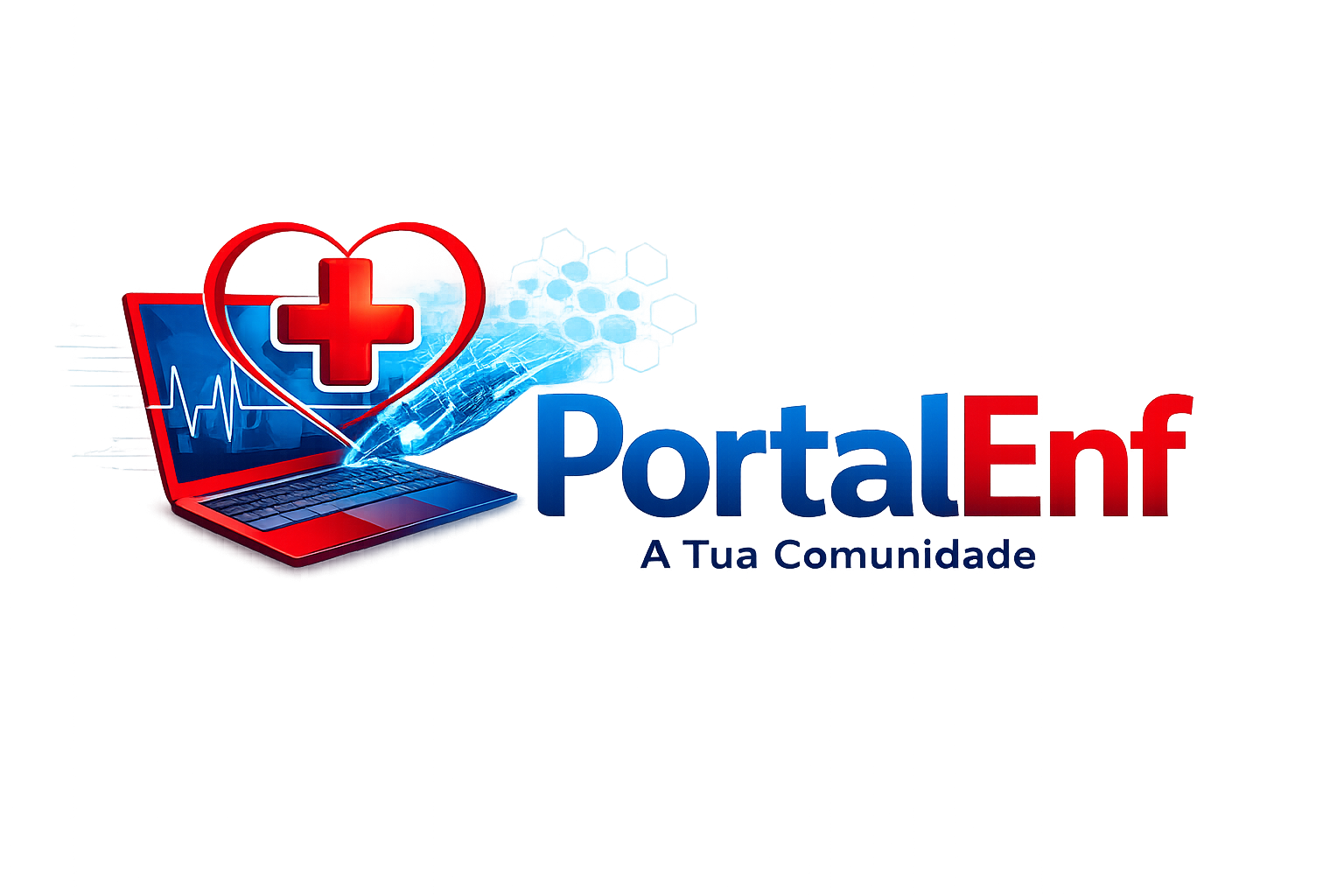Quando o cancro chega, nem sempre vem sozinho
Ricardo Sousa Mestre: Enfermeiro e professor na ESSATLA, Escola Superior de Saúde Atlântica
![]()
Quando se fala de cancro, o discurso público tende a organizar-se em torno da doença: diagnósticos, tratamentos, inovação terapêutica, taxas de sobrevivência. É um discurso necessário, mas incompleto. No Dia Mundial do Cancro (4 de fevereiro), importa refletir e formular uma pergunta tantas vezes evitada: quando o cancro chega, chegará sempre sozinho?
O cancro não se limita ao corpo. Inscreve-se na vida inteira. Altera rotinas, suspende projetos, fragiliza identidades e transforma relações. Para um número crescente de pessoas, deixou de ser apenas uma doença aguda e passou a assumir-se uma condição crónica, prolongada no tempo, marcada por sucessivas fases de tratamento, vigilância, recaídas possíveis e necessidade contínua de adaptação. Viver com cancro é, cada vez mais, aprender a viver com a doença.
Esta cronicidade inaugura um outro tempo. Um tempo em que o quotidiano se reorganiza em função da doença, em que a incerteza se prolonga e em que a normalidade precisa de ser constantemente reconstruída. Ainda assim, persiste a convicção tácita, socialmente aceite e institucionalmente reproduzida, de que existe sempre alguém que cuida. Uma família. Um companheiro. Uma rede disponível. Para muitos, essa convicção é frágil. Para outros, simplesmente inexistente.
Nem todas as pessoas têm família e nem todas as famílias correspondem ao modelo socialmente reconhecido. O cancro não escolhe contextos familiares nem respeita convenções sociais. Atinge quem vive só, quem está afastado da família de origem, quem construiu redes afetivas fora das formas tradicionais ou quem vive relações que não cabem nos pressupostos implícitos dos sistemas de saúde.
Para estas pessoas, viver com cancro enquanto doença crónica, é também viver com solidão prolongada. Uma solidão que se manifesta no percurso repetido pelos serviços de saúde, no regresso a casa após os tratamentos, na gestão silenciosa do medo, da incerteza, da dor e do cansaço. A ausência de uma rede de apoio próxima, fragiliza a vivência da doença e compromete os processos de adaptação ao longo do tempo.
E mesmo quando existe família, esta nem sempre é reconhecida como tal. Famílias reconstruídas, monoparentais, casais do mesmo sexo, relações não formalizadas ou redes de amigos que assumem funções de cuidado permanecem, muitas vezes, à margem do reconhecimento institucional. O cuidado informal continua associado a um modelo normativo de família que já não traduz a diversidade das formas contemporâneas de viver em relação.
Os sistemas de saúde continuam a pressupor a existência de cuidadores informais disponíveis, mesmo quando o cancro exige acompanhamento prolongado, contínuo e complexo. Quando essa expectativa não encontra correspondência na realidade, surgem lacunas no acompanhamento e sofrimento acrescido. Reconhecer esta diversidade não é um gesto de benevolência; é uma exigência ética e clínica. É neste contexto que a responsabilidade do enfermeiro se torna incontornável. Pela proximidade contínua, pela presença ao longo de todo o percurso da doença crónica
e pela natureza relacional do cuidar, o enfermeiro ocupa um lugar singular no acompanhamento de quem vive com cancro. Compete-lhe identificar situações de solidão persistente, reconhecer redes significativas, mesmo quando não legitimadas, e integrar os contextos reais de vida no planeamento dos cuidados. Cuidar é também um ato de advocacia e de justiça em saúde.
O Dia Mundial do Cancro deve ser, por isso, um momento de reflexão coletiva. Um tempo para interrogar pressupostos e afirmar, com clareza, que ninguém deveria viver o cancro, enquanto doença crónica, em solidão ou invisibilidade. Cuidar de quem vive com cancro é, em última instância, uma escolha coletiva, e nenhuma sociedade se pode considerar justa, enquanto houver quem atravesse a doença sem ser visto, reconhecido e acompanhado.
Outros artigos com interesse: